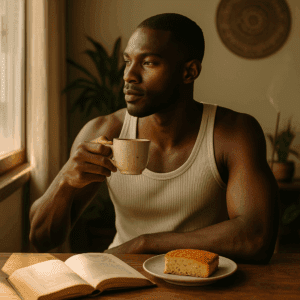O Brasil do futuro não será decidido por um único lado — nem pela direita que teme perder privilégios, nem pela esquerda que finge partilhar poder, mas se alimenta das mesmas estruturas que prometeu destruir. A imagem que hoje se desenha na política nacional é a de um país que vive entre polos, mas cuja maioria continua fora do quadro. Entre o aplauso e o cancelamento, entre os extremos de moralidade e de mercado, o povo — sobretudo o povo preto — permanece nas margens do projeto de Nação.
Nas últimas décadas, a democracia brasileira virou um campo de disputa de narrativas. O liberalismo travestido de meritocracia empurrou os pobres para o abismo em nome da eficiência, enquanto parte da esquerda transformou a representatividade em fetiche — como se bastasse colocar corpos negros e periféricos em espaços de poder para resolver séculos de desigualdade. O problema é que o sistema continua o mesmo: quem manda é o capital, quem lucra é o mesmo punhado de famílias, e quem morre continua tendo cor, CEP e classe social.
A figura de lideranças como Érica Malunguinho, Renato Freitas, Jones Manoel, Tarcísio de Freitas, Nicolas Ferreira ou Érica Hilton revela mais do que uma disputa política. Revela a disputa pelo imaginário do futuro. O que é liderar o Brasil hoje? É repetir velhas fórmulas ideológicas? É reproduzir discursos inflamados em busca de curtidas e manchetes? Ou é, de fato, reimaginar o país desde suas margens — não como vitrine, mas como centro de gravidade ética e cultural?
A direita tradicional se apoia no medo — medo da mudança, do diferente, do fim do controle. A esquerda institucional, por sua vez, se apoia na culpa — culpa histórica que se resolve com cotas simbólicas e discursos de inclusão sem transformação estrutural. Ambas se retroalimentam, e o resultado é um impasse: o país gira em torno das mesmas dinâmicas coloniais, com um verniz digital e progressista. A cor da foto muda, mas a engrenagem é a mesma.
É necessário dizer: a presença de pessoas negras na política não é garantia de transformação. Érica Hilton e Renato Freitas são conquistas, sim, mas não soluções. O racismo é um sistema, e nenhum indivíduo pode derrotar um sistema sozinho. Quando a esquerda celebra um nome negro como troféu, sem assegurar condições de poder real e sem reformar as estruturas que mantêm a desigualdade, ela não está praticando justiça — está praticando marketing. E o marketing, no capitalismo, é apenas uma forma elegante de manter as coisas como estão.
Da mesma forma, o discurso meritocrático de figuras da direita — como Nicolas Ferreira ou Tarcísio de Freitas — serve ao mesmo propósito: dizer ao pobre que, se ele não venceu, é porque não se esforçou o suficiente. Uma mentira antiga, com novas roupas. O capitalismo brasileiro precisa dessa mentira como combustível, pois sem ela o sistema desmoronaria sob o peso da própria injustiça.
O que poucos dizem é que a verdadeira liderança não nasce dos gabinetes nem das redes sociais, mas das ruas, das favelas, das escolas e das cozinhas. O futuro do Brasil não será construído por quem fala mais alto nos palanques, mas por quem sobrevive silenciosamente à margem do discurso. O país precisa de lideranças que saibam ouvir — e não apenas discursar. Que entendam que o combate ao racismo, à fome e à desigualdade não é uma pauta identitária, mas civilizatória.
A esquerda precisa parar de tratar o povo preto como vitrine e começar a tratá-lo como sujeito histórico. Isso significa dividir o poder de verdade, não apenas no discurso. Significa reconhecer que a luta antirracista não é uma “pauta de nicho”, mas o eixo em torno do qual qualquer projeto de futuro deve girar. Porque não há futuro sem redistribuição radical de poder, sem repensar a lógica do lucro, sem mexer nas bases da propriedade, da mídia e do sistema penal.
Já a direita precisa abandonar a fantasia de que a ordem e a fé resolverão tudo. O que ela chama de “moral” é, muitas vezes, a manutenção de privilégios antigos. E o que chama de “liberdade” é a licença para explorar o outro. O moralismo e o neoliberalismo são duas faces da mesma moeda — e ambas compram o silêncio de quem sofre.
O Brasil precisa de uma revolução ética, não apenas ideológica. Precisa de políticas que enfrentem o poder financeiro, o racismo estrutural e a indústria da miséria. Precisa reconhecer que a desigualdade não é um acidente histórico, mas um projeto contínuo — e que desmontá-lo exige coragem, não marketing.
É hora de dizer que o país não cabe mais nesse teatro entre direita e esquerda. Que a disputa não é apenas sobre quem governa, mas sobre para quem se governa. Que não adianta pintar ministérios de preto e periférico se as decisões continuam sendo tomadas no mesmo tabuleiro de sempre.
O futuro do Brasil não está nas mãos de salvadores, mas de coletivos. Não está nos extremos, mas na construção radical de um centro ético que coloque a vida acima do lucro. E isso não é um apelo à moderação — é um chamado à responsabilidade.
Talvez o verdadeiro líder do amanhã não será aquele que brilha na TV ou no feed, mas aquele que organiza uma horta comunitária, que funda uma escola popular, que cria uma política pública a partir da escuta real. O Brasil não precisa de heróis — precisa de estruturas.
Enquanto isso não acontecer, a política continuará sendo espetáculo. A esquerda continuará exaltando símbolos negros sem ceder poder real, e a direita continuará pregando “ordem” enquanto alimenta o caos da desigualdade. E o povo continuará, como sempre, a pagar o preço por assistir a uma guerra que nunca foi sua.
O Brasil do futuro exige coragem para romper com o roteiro. Exige admitir que nem a esquerda nos salvou, nem a direita nos representou. O que resta é criar outro caminho — um caminho em que a liderança não seja apenas ocupar espaços, mas transformar os espaços em instrumentos de justiça.
Porque entre discursos, lacrações e dogmas, o povo negro, indígena e periférico segue lembrando: o futuro do Brasil só será real quando for de todos. E até lá, seguimos à margem — mas não calados.